A relação entre religiões cristãs e o Estado brasileiro

Desde 2014, o debate público se dedicou a definir o que poderia ser dito ou não nas escolas do país. O projeto Escola Sem Partido e manifestantes contrários à suposta "ideologia de gênero" se empenharam em estipular os conteúdos permitidos e aqueles interditos nas salas de aula. Nesse mesmo período, um outro debate causou, comparativamente, menor estardalhaço: as escolas públicas deveriam ensinar ou não religião?
Em setembro de 2017, o STF decidiu ser constitucional a presença do ensino religioso em escolas públicas no Brasil. Passados quase dois anos e meio após a votação, considero prudente retomar o tema, afinal continua pairando no ar uma certa inquietação sobre qual o teor da relação entre as religiões (sobretudo cristãs) e o Estado brasileiro.
Leia também
- Precisamos falar sobre as universidades privadas
- Sem culpa, espiritualidade fora de religiões tradicionais encontra terreno fértil no Brasil
- Ministério da Educação e o tamanho do problema de TI no Brasil
A história da escola e da religião no Brasil se mistura com a presença exclusiva da Igreja Católica nessa área. Desde o início da formação do ensino público no país, a doutrina católica se fez oficialmente presente nos currículos escolares das escolas. Na época, os próprios professores eram obrigados a prestar juramento de fé católica.
A situação se manteve até as últimas décadas do século 19, quando a relação entre a Igreja Católica e o Estado sofreu mudanças, após a proclamação da República em 1889. A nova Constituição declarou a separação entre a Igreja Católica e o Estado, de modo que este não pôde mais financiar atividades religiosas – como ocorria até então – e o próprio ensino religioso deixou de ser ministrado nas escolas públicas.
Passadas algumas décadas, no início dos anos 1930, tornou-se novamente hegemônico o entendimento de que o ensino religioso seria imprescindível para a formação espiritual, moral e ética do cidadão e do ser humano, conforme explica o pesquisador Gustavo Gilson de Oliveira em artigo sobre o tema. A Liga Eleitoral Católica – uma organização fundada em 1932 e liderada pelo arcebispo D. Sebastião Leme – conseguiu eleger a maioria dos deputados para a Assembleia Nacional Constituinte e atuou por introduzir no texto constitucional a possibilidade de associação entre Estado e entidades religiosas. Como resultado, a Carta de 1934 explicitamente definiu, no artigo 153, a obrigatoriedade do ensino religioso "ministrado de acordo com os princípios da confissão religiosa do aluno manifestada pelos pais ou responsáveis."
Na Constituição de 1946, o princípio se manteve e foi ponto de partida para a elaboração da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), publicada em 1961, como explicam Luiz Cunha e Vânia Fernandes em texto de 2012. Estava em pauta a discussão sobre quem teria o controle sobre a disciplina "ensino religioso". Restou decidido que caberia à Igreja Católica autorizar a pessoa responsável por ministrar as aulas, independentemente de possuir formação pedagógica. Contudo, o deputado Aurélio Vianna (PSB-AL) apresentou uma emenda que modificava o caráter da legislação: as escolas públicas não poderiam remunerar os professores de ensino religioso e, além disso, professores do quadro docente regular não poderiam ser deslocados para tal atividade durante o horário de trabalho. No acordo final, o ensino religioso nas escolas públicas deveria ser realizado sem ônus para o Estado. Assim, na época, a disputa girava em torno da questão de definir se o ensino de religião deveria ou não ser função do Estado, como contam Paula Montero e Dirceu Giardi em trabalho de 2019.
No auge da ditadura militar, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1971 revogou a restrição presente na LDB anterior. Como resultado, dirigentes católicos passaram a fazer pressão política para o remanejamento de professores do quadro docente das escolas públicas para o ensino religioso, além de exigir a remuneração de seus agentes. Na ocasião, o ensino religioso voltou a ser de caráter confessional e de responsabilidade das igrejas interessadas.
Nos anos 1980, com a abertura democrática, o debate reascendeu. A Igreja Católica estava fortalecida por sua mobilização contra a ditadura e realizou pressão para a permanência do ensino religioso na Constituinte. Após as negociações, a redação do artigo 210 da Carta de 1988 definiu que "o ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental". Em paralelo, a nova Carta reconheceu a proteção da diversidade religiosa e dos direitos culturais. Nos anos seguintes, sobretudo na LDB de 1996, não se discutiu mais se o ensino religioso seria ou não oferecido, mas qual seria seu conteúdo e quais as normas para a atuação de docentes. A partir de então, a questão passou a ser: como o Estado deve regular a diversidade no ensino religioso?
Tanto a Constituição Federal quanto a LDB deixaram em aberto as diretrizes de implementação do ensino religioso: seu conteúdo, seu formato, quem ministraria a disciplina… Essa ausência contribuiu para proliferação de legislações distintas em cada estado, como explicam Marcos Carvalho e Horacio Sívori em artigo de 2017.
Em São Paulo, por exemplo, o Conselho Estadual de Educação estipulou que competiria aos professores graduados em ciências sociais, filosofia e história ministrarem as aulas de ensino religioso. O conteúdo ensinaria sobre religião sem excluir nenhum dos credos, sem haver proselitismo, cujo tema central seria a "história das religiões".
Já o Rio de Janeiro optou pelo caráter confessional do ensino religioso nas escolas públicas, conforme a Lei 3.459/2000. Dentro desse paradigma, os professores pertenceriam a uma confissão religiosa, de modo que as autoridades religiosas seriam responsáveis pelo credenciamento dos docentes e pela definição dos conteúdos da educação. O pluralismo religioso ficou subordinado à demanda dos alunos e à oferta de professores por parte do governo estadual. A título de exemplo, em 2004, o estado do Rio de Janeiro abriu um concurso com 500 vagas para professores de ensino religioso divididas em três segmentos, de acordo com a confissão dos candidatos: "católicos", "evangélicos" e "outros credos". Como resultado, foram distribuídas 342 vagas para católicos, 132 vagas para evangélicos e 26 vagas para outros credos.
A situação ganhou novos contornos na última década. Em 2010, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulgou, via decreto, um acordo entre a República Federativa do Brasil e o Vaticano, que garantia às instituições católicas direitos especiais em termos políticos, fiscais, trabalhistas e educacionais. Como reação, no mesmo ano, a Procuradora-Geral da República entrou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, questionando especificamente o artigo 11 do Acordo, que entendia como confessional o ensino religioso a ser oferecido.
A ADI 4439 foi distribuída para o ministro Luís Roberto Barroso do STF. Como o tema era espinhoso e repleto de dilemas, o magistrado decidiu convocar uma audiência pública com representantes do Estado e da sociedade civil. Na ocasião, 32 pessoas expuseram suas posições sobre o formato de ensino religioso a ser adotado pelo Estado brasileiro. A Procuradora-Geral da República defendia que a única maneira de compatibilizar o caráter laico do Estado brasileiro com o ensino religioso nas escolas públicas consistiria em adotar um modelo não confessional: o conteúdo deveria expor as doutrinas, as práticas e as histórias das diferentes religiões e das posições não religiosas.
No total, foram 32 pessoas a expor sobre o tema. Destaco duas posições relatadas por Montero e Girardi. A primeira partiu do representante do legislativo evangélico, Manuel Morais, que falou em nome do então presidente da Comissão dos Direitos Humanos e Minorias, o pastor Marco Feliciano (então PODE/SP, ex-PSC e atualmente sem partido). Segundo ele, a escola não faria proselitismo ao oferecer ensino religioso, isso porque, segundo sua lógica, embora ensinando uma fé, a criança não estaria sendo doutrinada, pois ela já teria escolhido sobre sua crença. Além disso, a escola prestaria um "serviço gratuito às famílias" mais pobres, que não teriam condições para pagar escolas privadas religiosas.
Contrariando as expectativas, a maior parte das instituições religiosas posicionou-se a favor da inconstitucionalidade do modelo confessional. Dentre os cinco representantes evangélicos, quatro fizeram falas contra o ensino religioso nas escolas públicas, porque consideravam que o ensino da religião – seus dogmas, doutrinas, ritos e liturgias – não deveria ser ensinado no ambiente escolar, mas sim na família, nas organizações religiosas ou nas escolas confessionais privadas.
A CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), por sua vez, foi uma das poucas entidades religiosas que defendeu a confissão no ensino religioso com grande vigor. Em sua forma de ver, o ensino religioso confessional, controlado pela Igreja Católica, seria uma das formas de garantir os direitos civis como o acesso à educação e da diversidade religiosa.
Ao final da audiência, embora 56% dos oradores tenham preferido a modalidade não confessional (18 de 32), a votação final da matéria pelo STF julgou improcedente a ADI por seis votos a cinco. O colegiado entendeu ser constitucional o ensino religioso de natureza confessional ser lecionado por representantes de uma religião nas escolas públicas.
A votação do Supremo reforçou a visão do ensino religioso como parte integrante da formação básica do cidadão, como explicam Carvalho e Sívori. Como efeito, as religiões (em especial as cristãs) ficaram autorizadas a contratarem seus próprios quadros docentes e produzirem e circularem materiais didáticos, cujos conteúdos não necessitam passar por avaliações do Ministério da Educação – ao contrário de todas as outras disciplinas da grade curricular.
Tais questões devem ser debatidas pelo conjunto social, sobretudo levando em consideração a própria diversidade religiosa do país.
Nesses últimos dois anos e meio, as escolas públicas ofereceram espaço, na disciplina, para outras formas de fé? Crianças que professam religiões de matriz africana aprenderam sobre essas cosmologias? Budistas, ateus e judeus se sentiram representados e contemplados? Mesmo as diversas correntes cristãs receberam atenção? Caso façamos uma avaliação séria nesse sentido, e a resposta a essas perguntas for negativa, o que fazer? Poderemos nomear o tema como tática de uma única "ideologia religiosa"? O assunto é espinhoso e merece grande atenção e comprometimento, sem falsas soluções.





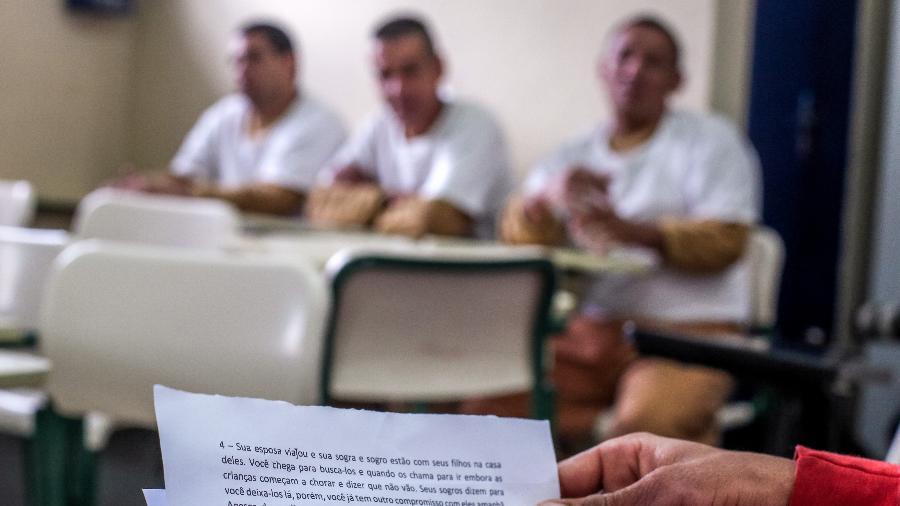









ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.