Abuso sexual infantil: o que os conservadores não querem discutir

Grupo leva cartazes e balões ao Cisam em ato de solidariedade. – Foto: Reprodução/Leonardo Vasconcelos
Quando um caso de violência sexual contra uma criança se torna objeto de disputa política, é prudente discutir os elementos envolvidos na controvérsia. O terrível ocorrido gerou a manifestação de diversas autoridades no país e atos os mais variados, tanto no hospital quanto nas redes sociais. Ao invés de focar nos eventos e incorrer na exposição da vítima, convém atentar para alguns dos interesses políticos e sociais emaranhados nessa discussão.
Abuso sexual infantil intrafamiliar
Nem sempre o abuso sexual infantil intrafamiliar foi tema político na esfera pública, conforme explica a antropóloga Laura Lowenkron, em artigos sobre o tema. Durante muitos anos, a família foi entendida como local de proteção absoluta da infância. Entretanto, na década de 1960, pediatras estadunidenses verificaram a existência de fraturas em crianças pequenas resultado de agressões sofridas dentro de suas casas e nomearam a o fenômeno como "síndrome da criança espancada".
O movimento feminista da época, impactado com tais informações, se articulou ao movimento contra o abuso infantil intrafamiliar e passou a denunciar a dimensão sexual desses abusos, juntando a pauta do abuso infantil com a luta feminista anti-estupro. Iniciou-se um processo de questionamento da subordinação absoluta das crianças às famílias. Nas décadas seguintes, houve um novo redesenho social das responsabilidades em torno da infância, resultando no reconhecimento de que crianças e adolescentes são "sujeitos de direitos especiais", devendo ser amparadas pela família, mas também pelo Estado, expõe a antropóloga.
Leia também:
- 'Wall of moms': ao longo da história, mães têm papel político em protestos
- Por que a discussão sobre abuso sexual infantil precisa evoluir no Brasil
- Estupro – precisa ver para crer?
No caso brasileiro, por exemplo, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, prevê que o compromisso para proteger a criança corresponde a uma tarefa coletiva da "família", da "sociedade" e do "Estado". O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) corresponde ao marco nacional dessa mudança paradigmática, em que o Estado passa a ser um agente importante para garantir direitos a elas.
O novo lugar da família
As denúncias e a constatação de que a família não corresponderia, necessariamente, a um espaço de segurança para as crianças precisaram ser digeridas e rearranjadas por grupos que consideravam a entidade como valor central.
Conforme destaca Lowenkron, se o abuso deveria ser coibido, era preciso recolocar a primazia da família na hierarquia do cuidado e, em paralelo, evitar que as críticas atingissem outros temas considerados caros para segmentos religiosos tradicionais e conservadores, como o aborto e a maioridade penal.
No caso do Brasil, durante a CPI da Pedofilia, o ex-senador Magno Malta (PL-ES), um dos principais articuladores da bancada evangélica, afirmou:
"As famílias precisam tomar a paternidade da situação e chamar para si a responsabilidade […]. O papel de imunizar, de criar, não é da policia, não é da classe política, não é do Ministério Público, não é da Justiça e nem de Conselho Tutelar, é da família. Porque Justiça, Polícia e Ministério Público agem depois de a porta ter sido arrombada. E o que nós não queremos é porta arrombada, porque não queremos ver crianças abusadas no Brasil."
A situação, analisada por Lowenkron, chama a atenção para o fato de que, segundo a lógica de Malta, só cabe a presença do Estado caso a porta tenha sido "arrombada", isto é, se a família falhar ou não conseguir exercer plenamente a proteção. Assim, ao invés de defender uma relação complementar de responsabilidades entre o Estado e a família, algumas autoridades defendem uma hierarquia entre os responsáveis pela proteção das crianças. Reside nesse aspecto uma das disputas presentes.
Instaura-se uma outra pauta, que desloca a crítica e não soluciona o problema do abuso sexual infantil intrafamiliar.
Grupos conservadores iniciam uma "cruzada antipedofilia", que "ganha força no final da primeira década do século 21, e redireciona a atenção política das desigualdades de poder dentro da família para a ameaça das perversões", explica Lowenkron. Na narrativa desenhada, "observa-se um enfraquecimento da crítica à estrutura social e familiar hierárquica e da preocupação com o inimigo interno que ataca de dentro da família, e um redirecionamento do temor para o Outro desconhecido e irreconhecível", completa a pesquisadora. Sem descartar a necessidade de tratar dos casos de pedofilia, o que essa gramática produz é esfumaçar a discussão sobre os abusos realizados no interior da família.
O caso de 2009 – o que estava em discussão?
Há pouco mais de uma década, um caso de abuso sexual infantil, similar ao atual, ocorreu em Alagoinha (PE). Na época, uma menina de 9 anos foi estuprada pelo padrasto e engravidou de gêmeos. O aborto ocorreu e causou algum estardalhaço.
A interrupção da gravidez foi, também naquela época, amparada pelo Código Penal. O artigo 128 prevê três hipóteses de aborto legal: "a primeira para salvar a vida da gestante, quando o médico não vê outra alternativa. A segunda, caso o feto seja anencéfalo. E a terceira no caso de estupro, com o consentimento da gestante ou, se incapaz, com o consentimento de seus representantes", conforme explica a advogada Tania Maria, da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia.
"Em 2009, quem se mobilizou?", pergunta a professora Jacqueline Moraes Teixeira, da USP (Universidade de São Paulo). "Associações e instituições católicas manifestaram suas posições contrárias a qualquer possibilidade de aborto induzido, mesmo nos casos de aborto previstos na lei nacional." Outras entidades assumiram posturas distintas. "Lideranças evangélicas não entraram necessariamente nessa dinâmica. Na época, foi possível perceber o ato e a narrativa de várias lideranças evangélicas se colocando contrárias ao arcebispo de Olinda, que excomungou tanto os médicos responsáveis por realizar o procedimento na menina quanto a mãe."
Mas as diferenças não cessam somente na posição assumida por certas entidades religiosas. "Em 2009 as pessoas não foram para a rua, para a casa da menina ou para o hospital em que estava. Todos os atos, as monções e o repúdio circularam na internet", relembra Teixeira. Em 2020, as pessoas se deslocaram para os hospitais com o objetivo de impedir o aborto. "Sãos atos que encontram ressonância no Estado, algo que a gente não tinha em 2009. Hoje há uma gramática do Estado e de governo que acolhe e permite essas posturas", avalia. Diversos agentes concorrem para definir e pautar o que a máquina estatal deve, ou não, fazer.
As atuais disputas pelo Estado
"O episódio é uma peça recente de uma construção antiga, que indica dois caminhos: um ganho de poder político e econômico de certas entidades religiosas e uma visão particular do Estado, isto é, do que o Estado deve ser", avalia Marília Moschkovich, pesquisadora do Instituto Gerar de Psicanálise. Segundo ela, o que está em disputa são as definições do que seria o próprio Estado.
Nas controvérsias, há quem defenda um Estado ausente e omisso, desconfiando de seus interesses. Como no caso da retirada da discussão de "gênero" e "sexualidade" dos planos de educação, durante intenso debate na metade da década passada. "De lá para cá, acompanhamos movimentações crescentes no sentido de perseguir profissionais da educação que viessem a abordar temas de educação sexual e de gênero. Ocorre que é justamente esse tipo de ensino sobre gênero e sexualidade que possibilita à criança e ao adolescente obter conhecimento", descreve o antropólogo Lucas Bulgarelli, pesquisador da USP. Pesquisas recentes dedicadas a compreender o impacto das campanhas antigênero nas escolas têm detectado "como interditar o debate favorece a manutenção de violências sexuais contra jovens e adolescentes, sobretudo quando levamos em consideração que uma grande parcela dos casos de pedofilia no Brasil ocorrem dentro do convívio familiar sendo com um perfil bastante recorrente de abusador nas figuras do pai, padrasto, tio, padrinho", alerta o pesquisador.
Somente com este debate em pauta, temas como o consentimento poderiam avançar. "Quem pode consentir? Consentir a que? Consentir não é uma autorização absoluta, é sempre uma negociação. E é preciso perguntar: se a pessoa não entende os termos que estão em jogo, naquilo que tem que ser consentido, esse consentimento é válido?", questiona a antropóloga Beatriz Accioly do Núcleo dos Marcadores Sociais da Diferença da USP. "Para consentir do ponto de vista ético, você tem que conhecer os elementos presentes nas consequências, no que está sendo negociado. E uma criança, considerada um sujeito em formação, nunca está em plena condição de entender as circunstâncias e as consequências do que está sendo negociado", comenta a pesquisadora.
Mais recentemente, em julho, as redes bolsonaristas no WhatsApp fazem circular mensagens a respeito da pedofilia, como alertou Rubens Valente no início de agosto, em sua coluna no UOL. Segundo sua apuração, os grupos compartilhavam mensagens sobre o combate à pedofilia e, ao mesmo tempo, atacavam personalidades como o youtuber Felipe Neto e a apresentadora Xuxa Meneghel. Desde o final de julho, as redes sociais da ministra Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos) intensificaram a publicação de mensagens a respeito do combate à exploração sexual infantil. Na época, o diretor da empresa de monitoramento Máquina Soluções, Rafael Caliari, declarou a Valente: "Mais recentemente, de um mês para cá, [o tema da pedofilia] começou a aparecer com mais frequência nos grupos. E a figura da ministra Damares vem sendo vendida, levantada, como a grande pessoa que vai resolver isso, que vai combater, que é a 'solução"'.
Quando, após cerca de um mês de campanha sobre o assunto, a própria Damares mobilizou suas redes sociais para tratar do estupro e da interrupção da gravidez, ela transformou o caso em epicentro de um debate sobre o governo federal, o Estado e a noção de família. "Mas as manifestações de direita focaram mais no aborto do que no estupro que a menina vinha sofrendo, até quase metade da sua vida", explicou Jacqueline Moraes Teixeira. Tal aspecto sinaliza quais batalhas e bandeiras o atual governo parece querer disputar. Marília Moschkovich ainda destaca: "Estamos em ano eleitoral e num momento de crise acirrada. Os grupos de esquerda também vêm crescendo desde 2013. Por isso é estratégico um factoide sobre a esquerda querer matar o bebê".
Se há uma concordância social de que todo e qualquer abuso infantil é violento e merece ser punido, há pontos de discordância significativos. Alguns grupos consideram ser responsabilidade do Estado oferecer condições para que as crianças tenham conhecimento sobre as leis e seus direitos. Já outros grupos consideram que esse tipo de conhecimento deve ser monopolizado pela família. Além disso, segmentos da direita vêem nessa discussão sobre o abuso sexual intrafamiliar uma ameaça potencial a uma de suas pautas mais caras: o direito à interrupção da gravidez. Talvez por isso tenham privilegiado, no primeiro momento, tratar desse aspecto em detrimento da violência sexual sofrida pela criança.
Os emaranhados envolvem, assim, muitos interesses políticos e morais. Ao invés de selecionar alguns corpos e os transformar em vitimas da discussão, é urgente que ideias sejam expostas sem constranger crianças, mães e profissionais da saúde.





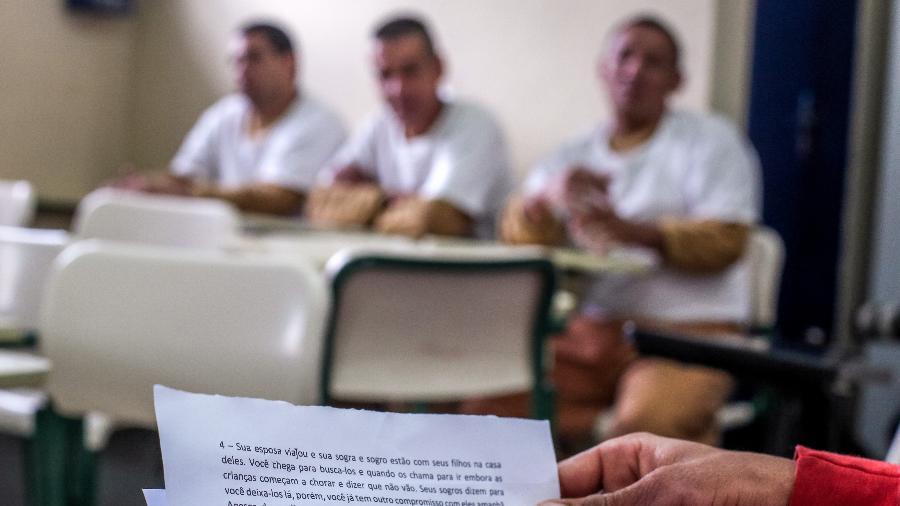









ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.