“O mito da democracia racial já não convence mais”, diz socióloga

Flavia Rios em sua biblioteca. Foto: Matheus de Jesus
Comparações entre o movimento negro estadunidense e brasileiro podem ser feitas, mas é exagerado dizer qual é "mais importante", "mais explosivo", "mais consciente", explica Flavia Rios. Em entrevista à coluna, a socióloga, pesquisadora do Afro Cebrap e professora da UFF (Universidade Federal Fluminense) apresenta trabalhos sobre os caminhos do movimento negro brasileiro e avalia as comparações entre as reivindicações antirracistas no país e nos EUA. Reproduzo, abaixo, os principais trechos de conversa.
Veja também
- Racismo brasileiro foi genialmente concebido a ponto de ser negado
- Ideia de democracia racial foi amplamente adotada no país pós-escravidão e ajuda a explicar o racismo
- Por que protestos contra o racismo nos EUA são diferentes dos brasileiros
Em seu trabalho, você trata do processo de institucionalização do movimento negro no Brasil. Quais eventos destacaria?
Flavia Rios: O início dessa história remonta aos anos 1980, principalmente no estado de São Paulo. Esse processo começa no interior do estado, com as interações sócio-estatais que, por meio dos conselhos voltados exclusivamente aos assuntos da população negra, discutem e inserem pautas, interesses e valores dessa população. Importante marcar como, desde o início, há participação das mulheres negras nesses fóruns. Ao mesmo tempo, ao longo dos anos 1990, avança a discussão na sociedade civil. Os coletivos, até então menos institucionalizados – fluidos e menos hierarquizados – vão ganhando formas mais cristalizadas, principalmente com as ONGs, que exigem um processo de burocratização – por sinal, os financiamentos internacionais foram bastante importantes nesse sentido. Esse processo, nas duas esferas (civil e institucional), resultou na profissionalização dos ativistas e na especialização sobre determinados assuntos. Temas como saúde, educação e advocacy tornam-se especialidades. Nos anos 2000, ocorre uma institucionalização estatal, em organizações como a SEPPIR [Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial] e na participação em conselhos diversos. Um processo muito forte ocorreu na Conferência de Durban [2001], e após a ascensão do PT ao Poder Executivo.
Houve mudanças nas estratégias do movimento negro ao longo da história?
FR: Sim, há diferenças nos movimentos de rua e nas mobilizações. Nos anos 1970, ainda estávamos na ditadura militar. Os movimentos negros já existiam, mas naquela época notamos um momento de inflexão importante porque, sob o Regime Militar, houve uma reorganização dos ativismos de modo geral. O movimento se opõe ao regime e questiona condutas estatais, civis e privadas. Ele problematiza as mortes, as torturas nas periferias, a invisibilidade das pessoas negras. O MNU [Movimento Negro Unificado] surge porque um feirante, Robson Silveira da Luz, foi torturado e assassinado em uma delegacia em Guaianases, na zona leste de São Paulo, em 1978. Outro evento de discriminação racial explícita foi o fato de dois jovens terem sido barrados num clube de classe média-alta paulistano. A dimensão reivindicatória ganhou força ao longo de todos os anos 1980, questionando os simbolismos de Estado, principalmente a data do 13 de maio. Rejeitavam-se os simbolismos de uma história oficial e a própria ideologia que orientava o Estado – a chamada Democracia Racial. Para isso, o movimento colocava as pessoas na rua, convocando a conscientização. Nos anos 1990, isso continua expressivo.

Ato do Movimento Negro Unificado em 1978 com cartazes e ativistas. Foto: Folhapress
E nos anos 2000?
FR: Ocorre uma mudança de perfil. Já mais próximo ao Estado, o movimento vai na direção de institucionalização de políticas públicas para implementar a chamada igualdade racial. É um momento de um certo esvaziamento dos protestos, mas isso não significa que o movimento social tenha diminuído. Na verdade, ele multiplicou-se, diversificou. Na época, os protestos eram motivados por três principais razões: a luta pelas ações afirmativas nas portas das universidades, a luta contra a discriminação racial (nos shoppings, supermercados e espaços de sociabilidade) e a politização das mortes, prisões e abusos de jovens negros. O movimento social encenava a história, os eventos históricos e os personagens históricos, porque os símbolos que o Estado teria elegido não eram aqueles que as lideranças negras consideravam serem os símbolos da liberdade, exatamente porque tiravam o protagonismo negro. Nesse caso, houve um processo de ritualização da política, principalmente na Marcha do 12 de maio, que era feita no dia 12 e não 13, para questionar a abolição, explicitar como ela é incompleta e para evidenciar os efeitos deletérios da escravidão. O próprio processo de abolição foi muito jurídico-político, não teve impacto social e econômico que se esperava para a população negra.
Em suas pesquisas, você destaca o papel da Conferência de Durban para o movimento negro. O que foi a conferência?
FR: A Conferência de Durban, de 2001, é um momento muito importante para o ativismo político negro brasileiro antirracista. O Brasil representou a segunda maior delegação mundial e chegou em situação de protagonismo. O movimento negro se mostrou muito internacionalizado, muito forte, muito profissionalizado e com habilidades técnicas de participação em eventos internacionais. As mulheres negras tiveram um destaque muito expressivo e Edna Roland, especificamente, foi a relatora da Conferência. Ali se estabelece um consenso: as ações afirmativas se transformam na política adequada para o enfrentamento das desigualdades. Depois de Durban, a política de Estado em relação à desigualdade racial no Brasil e em outros países latino-americanos se altera.
Qual foi o impacto de Durban?
FR:O movimento negro foi impactado porque se viu mais internacionalizado e passou a pautar de maneira mais propositiva a questão das ações afirmativas frente ao Estado. A questão do SUS, em particular, é anterior à Durban. Em 1995, o movimento negro senta numa grande mesa com intelectuais antirracistas para pensar a questão racial – ainda sob o governo Fernando Henrique Cardoso. E pouco depois, já se tem uma movimentação muito forte para inserir o quesito cor nos formulários estatais e incluir essa informação nos dados estatísticos. Essa foi uma das grandes contribuições do movimento negro para garantir informações da população que acessa o Sistema Único de Saúde.
Em tempos de pandemia, como o movimento negro tem se organizado?
FR: Os movimentos estão muito atuantes, quase fazendo as vezes do Estado. Lutam para a garantia mínima das condições básicas das populações periféricas, negras. São pessoas sem acesso a uma informação qualificada, com dificuldade da compreensão da linguagem do novo fenômeno. Faltam condições básicas de limpeza, de higiene, de procedimentos básicos de proteção e alimentação. Dessa forma, tem uma solidariedade muito forte de ativistas, um processo de comunitarização nas organizações e nas redes de solidariedade que se intensificaram nas periferias, no sentido de dar garantias mínimas: cestas básicas, produtos de higiene, limpeza, informações, conscientização acerca da pandemia, os efeitos, os impactos… Há vaquinhas virtuais, há campanhas de levantamento de recursos. Isso tudo tem sido muito relevante, embora não consigam se massificar.
Diante das manifestações das últimas semanas, há algo de inédito nas estratégias?
FR: Elas têm um tema muito caro no mundo, no Brasil, nos Estados Unidos, na Colômbia: a violência policial, a racialização dos corpos e a criminalização da população negra. É algo muito discutido e motivo de ação política. O que não parece ser exatamente inédito, mas bastante expressivo, é a difusão do protesto. Na verdade, se olharmos outras manifestações que aconteceram nessa década – a Primavera Árabe, as manifestações que aconteceram desde 2011, inclusive no Brasil – são protestos com um grau de difusão nacional. Não podemos desprezar os efeitos das redes sociais e o impacto das tecnologias de informação nesse processo. O porte do celular é uma arma poderosa nas mãos dos grupos subalternos. Por exemplo, o fato de o assassinato de George Floyd ter sido gravado foi fundamental para a rapidez da difusão do protesto, e para gerar uma revolta. É interessante que a mobilização antirracista com a pauta da violência policial tenha ganhado a proporção que ganhou. Especificamente na luta antirracista dos EUA, há uma presença mais ativa da comunidade branca do que vimos, por exemplo, nas lutas pelos direitos civis [nos anos 1960]. Essa presença branca se tornou mais visível e mais intensa agora nesses protestos, especialmente com a participação da juventude e das mulheres.
A comparação entre o movimento negro brasileiro e o movimento negro estadunidense é adequada?
FR: Tem muitas possibilidades comparativas entre o movimento negro estadunidense e brasileiro. O que é exagerado na literatura e nos comentários jornalísticos é uma hierarquização despropositada. É uma valoração do que é "mais importante", "mais forte", "mais explosivo", "mais consciente". Tudo isso é problemático, porque esconde a história específica nacional, a trajetória do antirracismo em cada país e, sobretudo, as formas pelas quais o antirracismo se estabeleceu e se desenvolveu em cada contexto. São dois países que têm histórico longo de antirracismo, mas com formas de ação distintas. Por exemplo, o movimento negro norte-americano conseguiu se mostrar, não só de agora, uma capacidade de mobilização de massa muito grande. Um outro elemento importante reside no fato de que, a despeito de outros movimentos se apresentarem muitas vezes como pacifistas – há muitos que pregaram o pacifismo como estratégia política – houve, na história política norte-americana, a presença do recurso às armas e à violência como forma de ação política. Isso não aconteceu no Brasil. As ações de antirracismo no país nunca foram pautadas por nenhum tipo de recurso à violência física ou à violência contra nenhum instrumento do Estado. As ações mais enfáticas ocorrem em revoltas em contextos de mortes quando um jovem/uma criança é assassinado/a, e os familiares reagem, põe fogo na rua… Essas reações imediatas não são organizadas pelos movimentos negros. São reações espontâneas das populações periféricas cansadas de tanta violência. Quando os movimentos antirracistas organizam protestos no Brasil não fazem uso da violência, nem em forma ritual.

Protesto antifascista contra o governo Jair Bolsonaro, na região de Pinheiros, no largo da Batata, em São Paulo (SP). Na imagem, um ativista carrega um cartaz escrito "Racismo é um vírus" (Foto: Newton Menezes/Futura Press/Folhapress)
E as aproximações?
FR: Ambos alteraram muitas concepções e valores nas sociedades. Por sinal, eles se transformaram em exemplos: o ativismo brasileiro é conhecido e reconhecido no mundo inteiro, o norte-americano também. Os dois tiveram eficiência em suas pautas – não quer dizer que todas as reivindicações foram contempladas. O tema explosivo da segurança pública está aí para mostrar os fracassos da luta antirracista. A questão da violência policial é um dos grandes gargalos para os dois países e no mundo – em outros países latino-americanos também. Entretanto, é interessante chamar a atenção para a diferença de repressão entre os países. A violência a que está submetida a população negra no Brasil é muito maior – em termos numéricos, de quantidade de pessoas mortas – do que a violência que os norte-americanos negros sofrem. O Estado mata muito mais aqui no Brasil do que se mata nos Estados Unidos.
O mito da democracia racial ainda é um entrave para o avanço das mudanças?
FR: Os desafios são imensos. O modo como o autoritarismo tem se estabelecido nas democracias mais fortes e longevas, como a estadunidense, é problemático. No caso brasileiro, o modo como o governo deslegitima as pautas de igualdade racial, expulsa o ativismo político e os movimentos sociais que se qualificaram ao longo dessas décadas para pensar políticas públicas. Há um cenário negacionista, que nega a estatística, que nega a própria história política do país e que faz um revisionismo sem base científica. Há também o grande desafio – independente de ações de governos, progressistas ou de extrema-direita – que é a violência policial. A grande diferença reside no fato de os governos atuais legitimarem a violência. Precisamos enfrentar a Lei de Drogas, o encarceramento em massa da população negra, a precarização no contexto pandêmico, a maior informalidade do trabalho… Já a democracia racial sofreu grandes abalos. Uma das narrativas que tínhamos era que a democracia racial escondia o racismo. Hoje a linguagem antirracista denuncia o racismo, explicita o sofrimento, escancara a morte de pessoas por serem negras, evidencia a abordagem policial por critérios raciais, demonstra a condenação em massa de negros. A conscientização da população sobre o racismo passa a ser presente entre as pessoas negras e também entre as pessoas brancas. Isto é, há uma explicitação da centralidade do racismo na vida social brasileira. Isso abala o mito da democracia racial. Ele ainda persiste, evidentemente, nas gerações mais antigas. Mas acho que, entre os jovens, já existe um entendimento de que o racismo está presente e de que a democracia racial é uma farsa, uma ideologia.

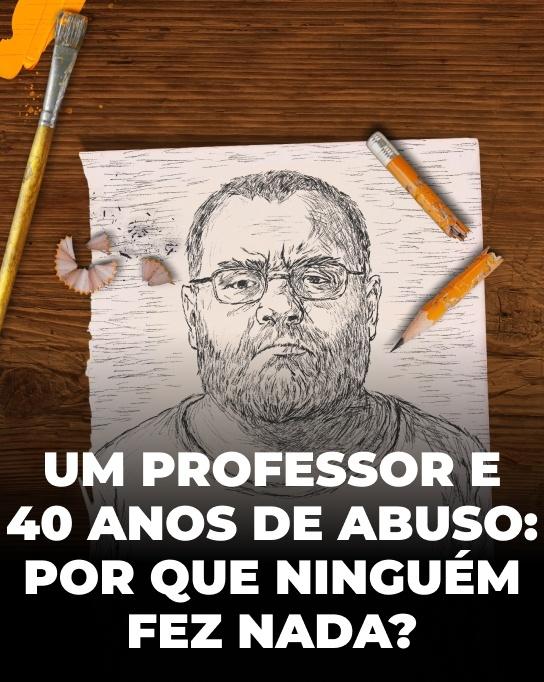



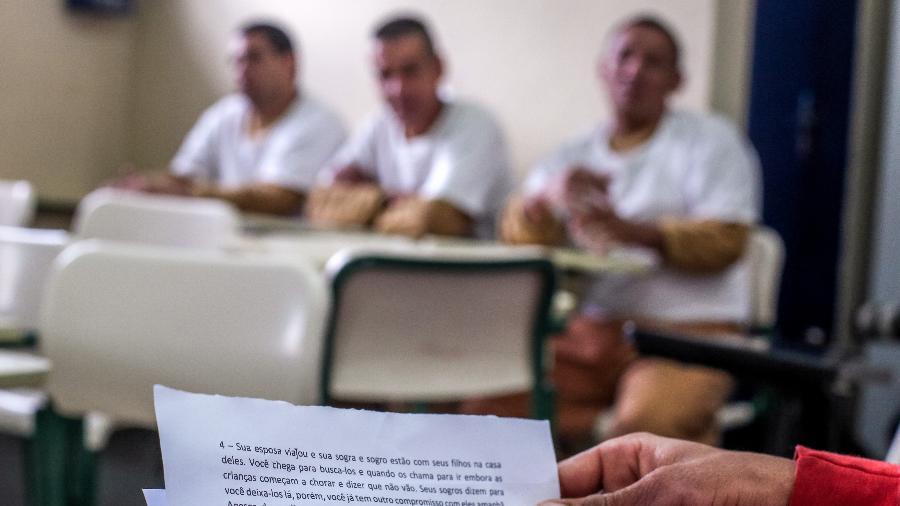









ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.