Damares, os neopentecostais e a "nova política" dos Direitos Humanos

Igreja Batista de Lagoinha, onde Damares Alves é membra (Foto: Divulgação)
Assumir os direitos humanos e as igrejas pentecostais e neopentecostais como categorias antagônicas pode levar a um erro de análise, explica Jacqueline Moraes Teixeira. Em entrevista concedida exclusivamente para a coluna, a antropóloga, pesquisadora e professora da Faculdade de Educação da USP apresenta partes de sua recente investigação, em que esmiúça o papel de segmentos evangélicos na disputa em torno dos chamados Direitos Humanos. Reproduzo, abaixo, os principais trechos de nossa conversa.
Veja também:
- Filme aponta futuro sombrio com evangélicos dominando o Brasil
- Os dramas e êxitos na construção de uma instituição sem glamour: a tradicional família homoafetiva brasileira
- Como seminaristas encaram a fuga de fiéis, as novas tecnologias e as privações da vida na igreja
Como as Igrejas Pentecostais e Neopentecostais têm atuado nas pautas de Direitos Humanos?
JMT – Em minha pesquisa, comecei a perceber a estratégia política de várias igrejas de tradição pentecostal e neopentecostal de se aproximar das pautas de direitos humanos. Uma associação pensada a partir da necessidade de constituir uma ocupação da pasta ministerial, das temáticas e da reformulação de algumas demandas.
Essa ocupação não é recente – remonta a cerca de uma década – e fica mais evidente agora por causa da aliança entre alguns segmentos evangélicos e o governo de Jair Bolsonaro. Consequentemente, houve a produção do ministério Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, liderado por Damares Alves.
Como se deu esse processo?
JMT – Em primeiro lugar, é preciso dizer que, em nossa história nacional, algumas áreas do Estado foram destinadas à gestão religiosa. Como, por exemplo, a saúde e a educação via hospitais e escolas de tradição confessional. As associações católicas – com suas creches, seus albergues, seus espaços de recepção de refugiados – constituíram sua legitimidade para atuar dentro do Estado e em nome do Estado.
A partir da criação dos direitos humanos como pauta internacional, após o fim da 2ª Guerra Mundial, a assistência e o cuidado tornaram-se responsabilidade do Estado de direito. No caso do Brasil, estas pautas foram assumidas por atores religiosos sob uma gramática do cuidado. Inclusive, teremos pouquíssimas instituições de direitos humanos no país que não tenham vinculação diretamente religiosa.
Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Estado alterou sua forma de organização e começou a produzir mecanismos de disputa desses espaços institucionais voltados aos direitos humanos. O debate passou a ser disputado entre os já tradicionais sujeitos religiosos e um novo grupo de especialistas formados em universidades – que são convidados pelo Estado a ocupar cargos de assessoria, escrever documentos e materiais didáticos. Você vai ter pesquisadores e pesquisadoras que passam a atuar sobre o tema sem nenhuma vinculação com agências religiosas, filiados, isso sim, a universidades e institutos de pesquisa.
Esse processo de especialização de secretarias e comissões, que passa a compor o cenário nacional dos Direitos Humanos, deixou parte dos evangélicos pentecostais e neopentecostais de fora. Embora, em paralelo, tenham se ampliado os mecanismos de reconhecimento das ações públicas das igrejas ao conveniar suas instituições de atendimento e de cuidado das pessoas que se encaixam nos critérios de vulnerabilidade. Assim, a abertura para novos sujeitos (para além das instituições ligadas às pastorais católicas) e o reconhecimento por parte do Estado de instituições confessionais pentecostais e neopentecostais, abriu caminho para que segmentos evangélicos disputassem esse espaço e os sentidos do que seriam os Direitos Humanos.
Pode dar um exemplo?
JMT – Vou citar dois. Em primeiro lugar, podemos tratar do processo de aprovação do Plano Nacional de Direitos Humanos, em 2009, no final do segundo mandato de Lula. Na época, o governo queria garantir que direitos implementados via políticas públicas ganhassem estabilidade e legitimidade: alguns direitos reprodutivos, os direitos sexuais, as ações afirmativas, a demarcação de terras indígenas, a definição da Comissão da Verdade…
Diante disso, presenciamos uma aliança entre alguns lideres nacionais do segmento evangélico pentecostal e neopentecostal, algumas lideranças do movimento carismático católico e alguns parlamentares espíritas. Essa união ficou conhecida mais tarde como a "bancada da Bíblia", como é possível verificar nas pesquisas de Christina Vital. Por causa dessa organização concentrada, o Plano Nacional de Direitos Humanos não foi aprovado como se esperava e trouxe outras consequências para o desenrolar político. O governo, na época, decidiu retroceder em algumas pautas, exatamente para manter uma aliança que garantisse a eleição da Dilma [Rousseff] em 2010. E esse acordo apareceu em muitos momentos durante a corrida eleitoral, sobretudo no segundo turno em que a Dilma divulgou uma carta na qual ela se colocava contra a descriminalização do aborto.
O segundo momento diz respeito à tramitação, em 2011, do projeto Escola sem Homofobia, atrelado ao projeto Brasil Sem Homofobia. A gente pode ver, nesse caso, a disputa a partir da criação do termo "Kit Gay" – fenômeno estudado pela pesquisadora Vanessa Leite. E notamos aqui uma inflexão: a legitimidade dos direitos humanos passa a depender de um processo moralizador atrelado aos direitos sexuais.
Jair Bolsonaro aparece nesse momento falando de "Kit Gay" no programa de Luciana Gimenez e isso faz com que ele tenha alcance nacional. O governo Dilma retrocede, diz que não pode reconhecer os direitos morais de uma minoria em detrimento de outras e, como consequência, esse grupo ganha força. Embalado por esse movimento, o pastor Marco Feliciano (PSC-SP) se tornou o presidente da Comissão dos Direitos Humanos no Congresso Nacional em 2012. O momento configura uma visibilidade para tal grupo e permite que ele ganhe uma posição mais centralizada e mais centralizadora para dar profusão a determinadas pautas.
No intervalo de gestão de Feliciano, a Comissão de Direitos Humanos se torna muito ativa. Se em anos anteriores a comissão não chegava a uma dezena de projetos tramitados, no período de dois anos ela tramita quase uma centena de projetos. Várias discussões entram em pauta, como a cura da homossexualidade, o estatuto do nascituro, a revisão do aborto como crime hediondo em qualquer circunstância… Em paralelo crescem também as pautas relacionadas à violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha nas Escolas ganha o interesse dessa comissão que pensa os direitos humanos como uma pauta relacionada diretamente à família.
É possível dizer que existe mais de uma noção de família em disputa?
JMT – A noção de família é central, mas não apenas entre o grupo que chamamos de conservadores. A categoria família foi extensamente operada em governos anteriores – a grande política pública da última década foi o Bolsa Família e isso não é à toa. É uma categoria de operação jurídica fundamental, o próprio sistema jurídico organiza sua gramática de direito civil atrelada ao bem-estar da família. Ela se consolidou como uma linguagem de governança. No caso de parte do segmento pentecostal e neopentecostal, o uso da categoria família corresponde a uma estratégia para conquistar uma posição de legitimidade junto ao Estado. Isso porque historicamente eles nunca foram legítimos para ocupar essa posição institucional e nem os espaços reservados (dentro do Estado) para a religião. O segmento católico é que dispunha dessa prerrogativa.
Dessa forma, a categoria família se tornou uma a categoria centralizadora dos direitos humanos – é como se estivéssemos falando de direitos humanos como um direito de família. E o investimento nessa pauta seria uma estratégia de parte do segmento evangélico para construir a própria legitimidade de ação dentro do Estado-nação. Isso num momento em que mesmo religiosos que eram anteriormente autorizados para ocupar esse espaço estavam sendo substituídos pelos especialistas universitários – continuamente convocados pelo Estado para desenvolver políticas para pensar essas questões.
Os direitos humanos se tornaram, de alguma maneira, um campo de disputa de quem pode e quem não pode ocupar uma posição legítima dentro do Estado.
Qual a trajetória de Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos?
JMT – Essa aliança entre o governo Bolsonaro e os evangélicos é uma aliança frágil – essa característica também aparece nas pesquisas de Ronaldo Almeida e Ricardo Mariano. Estamos falando de um grupo muito segmentado que está o tempo todo se reorganizando, constituindo e reconfigurando suas alianças (que são, a princípio, instáveis).
De alguma maneira, é possível afirmar que Damares Alves é a ministra que performatiza essa aliança. Ela é uma mulher evangélica da Igreja Batista de Lagoinha – uma das igrejas batistas mais fortes do país – e filha de um pastor missionário da Assembleia de Deus. Então durante a trajetória de vida, Damares viveu em oito estados do Brasil, enquanto os pais fundavam "ministérios" no Norte e no Nordeste do país. Ela atuou como missionária da Assembleia de Deus e realizava projetos para mulheres. A sua inserção política começou no interior de São Paulo, na década de 1990. Quando ela estava concluindo o curso de direito em São Carlos, foi chamada para a Secretaria de Assistência Social de São Carlos e, desde então, ocupou esses espaços de assistência social que estão imbuídos dessa pauta global que são os Direitos Humanos.
Já como advogada, Damares vai para Brasília em 1998 para ser assessora do Magno Malta. E durante a presidência do Marco Feliciano na Comissão de Direitos Humanos, ela realmente se aproxima dos Direitos Humanos e se torna uma representante importante de uma associação de advogados evangélicos – de que é fundadora. Essa associação atua em muitas instâncias, na legislação pela cura gay, na agenda do infanticídio e em ações contra a violência da mulher.
Foi justamente esta última pauta que lhe deu projeção nacional, pois Damares foi autora de uma cartilha para prevenir atos de violência doméstica. O documento passou a ser distribuído em igrejas que começaram a desenvolver projetos voltados para mulheres em situação de violência. A base do projeto é a lei Maria da Penha, e mesmo que ele ocorra dentro da Igreja, a proposta prevê redes mais profissionalizadas de atendimento.
A trajetória da Damares a autoriza nessa discussão, pois é alguém que sofreu abuso sexual na infância, sofreu violência doméstica no casamento e é divorciada. Então, ela tem uma experiência que, de alguma maneira, aciona e produz identificação entre as mulheres evangélicas do país que já passaram por isso. Eu não estou dizendo que todas as mulheres evangélicas gostam ou conhecem a ministra. Mas estou dizendo que, dentro desse governo – que a gente entende como não representativo, caótico e não democrático – a Damares é um ponto de representatividade. Isto é, ela representa um segmento da população, e essa é uma questão que vale a pena a gente olhar e entender com seriedade, para tentar apresentar respostas a essa atual conjuntura.
Quais suas últimas considerações?
JMT – A conjuntura atual é efeito de um processo delicado envolvendo as disputas dos direitos humanos. A disputa tem sido feita a partir de uma pauta específica, que é a violência contra a mulher. E a ocupação no debate em torno da categoria mulher. Não se trata de uma linguagem do Direito que busca defender o direito da mulher como um sujeito exclusivo (e independente) de direito, mas sim de um projeto que busca reconhecer a mulher como sujeito atrelado a outro sujeito: a família. Todas as pautas relacionadas à violência – abuso, assédio – tudo isso emerge com um pequeno deslocamento em relação ao modo como essas pautas foram constituídas pelo movimento feminista. Elas passam a ocupar uma posição para defender a família. A família permeou toda nossa história constitucional como unidade mediadora de gestão e de relação com o Estado; a família que, a partir de 1988, emergiu na nossa carta constitucional como sujeito de direito; nesse cenário político atual, a família se revela como categoria de disputa e de esvaziamento de várias das nossas vitórias na ampliação das pautas para os Direitos Humanos no Brasil.



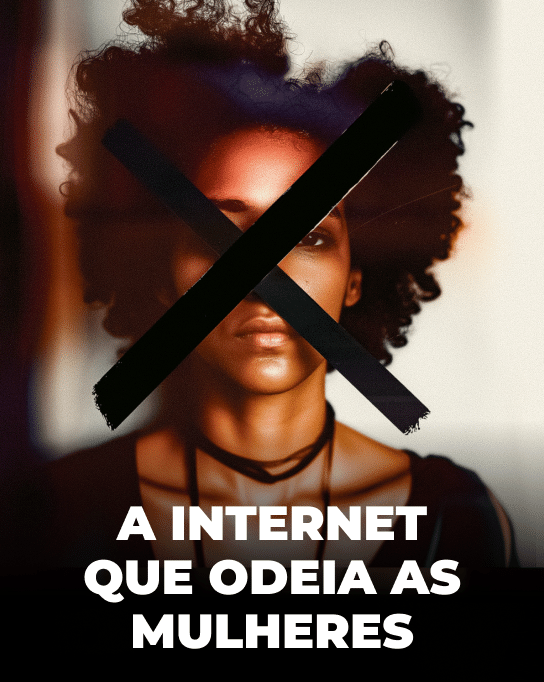

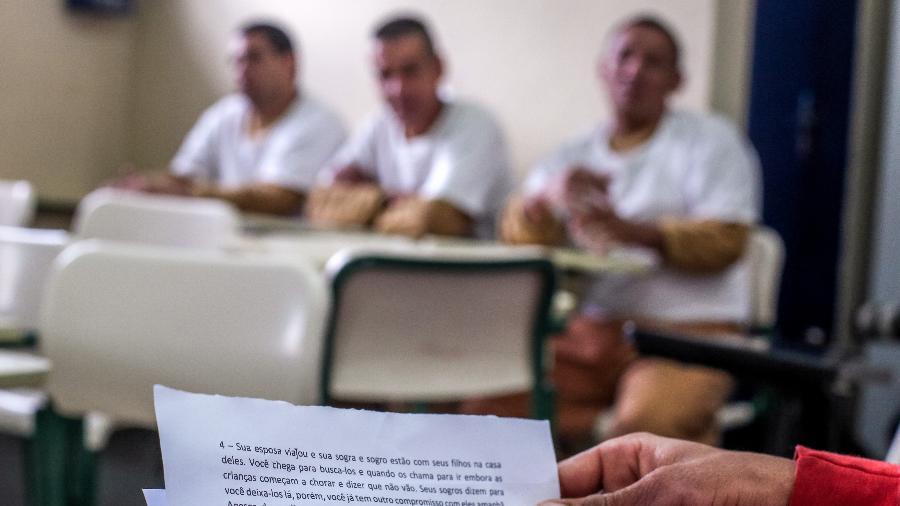









ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.