A guerra da memória

Fonte: Elineudo Meira/Mídia Ninja
Manifestantes em ato no dia 31 de março de 2019 pela memória de desaparecidos durante o regime militar.
A disputa pela memória dos eventos que ocorreram entre 1964 e 1989 já é antiga. Na última quinzena, o debate ganhou os holofotes por conta de declarações do presidente Jair Bolsonaro a respeito do pai de Felipe Santa Cruz – o atual representante da OAB – e da afirmação de que a jornalista Miriam Leitão não teria sido torturada. Essas assertivas se somam a outras que ora negam a existência da ditadura militar no país, ora alegam que as torturas não existiram de maneira sistemática dentro do próprio Estado.
Ao que tudo indica, estamos vivenciando mais um capítulo da chamada "guerra da memória" – termo cunhado pelo historiador João Roberto Martins Filho. A expressão nomeia o debate que envolve as narrativas dos significados e dos fatos que ocorreram durante o regime militar no Brasil. Essa guerra tem, ela mesma, uma história que cabe recordar.
A controvérsia remonta ao final da década de 1970 e início dos anos 1980. Na época, começou o chamado projeto de abertura, uma ação controlada pelo presidente Ernesto Geisel. Em 31 de dezembro de 1978, foi extinto o AI-5 e, em agosto de 1979, publicada a Lei da Anistia. A norma trazia de volta os exilados, libertava presos e permitia aos clandestinos reassumirem sua identidade. Em troca, havia a cláusula de reciprocidade que aprovava a impunidade para os militares, impedindo a responsabilização individual dos crimes praticados pelo Estado. Segundo a socióloga Irene Cardoso, essa legislação impôs o esquecimento justamente por impedir a inscrição simbólica da tortura na memória histórica do país.
É nesse período que se inicia o que Martins Filho identifica como a primeira campanha da guerra da memória. De um lado, por parte de pessoas vinculadas a movimentos sociais de esquerda, foram publicados livros que apresentavam versões críticas à ditadura como as memórias de Renato Tapajós – Em câmara Lenta –, o relato de Fernando Gabeira – O que é isso companheiro? – e o texto Brasil Nunca mais, organizado pelo Cardeal Paulo Evaristo Arns. As narrativas exploravam os diferentes aspectos da experiência da tortura e o medo que atravessava o dia-a-dia da oposição ao regime.
Como reação, alguns membros das forças militares construíram uma contra narrativa a essa onda inicial de textos. Uma das primeiras respostas surgiu em 1986, com a publicação do livro Brasil Sempre, de Marco Pollo Giordani. O argumento reproduzia a versão oficial defendida pela organização militar: a repressão era uma forma de livrar o Brasil do perigo comunista. O livro negava a existência da tortura e justificava os "excessos" com alusões religiosas:
"Antes de enunciar horrores e depoimentos histéricos, caberia a um sacerdote emitir a clássica indagação: que fizeste, filho? Que praticaste contra a vida de teus semelhantes, contra a comunidade que te abriga, contra as autoridades que, justa ou injustas, são constituídas?" (Giordani, 1986, p. 97)
Em 1987, o coronel Brilhante Ustra ainda publicaria um outro texto denominado Rompendo o Silêncio. Oban/Doi-Codi, 29 Set. 70-23 jan. 74 cujo teor era similar ao de Giordani. Segundo o professor Martins Filho, o livro marcaria o fim da primeira campanha da guerra da memória. A disputa arrefeceria por alguns anos, durante o início da retomada democrática.
A segunda etapa começaria já nos anos 1990. Entre 1994 e 1995, um grupo de pesquisadores do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, desenvolveu uma longa pesquisa a respeito da memória militar. A proposta era estudar as diferentes versões que circulavam entre os participantes do regime. Para isso, a investigação organizou uma série de entrevistas com altos oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Pouco depois, em 1998, o jornalista Hélio Contreiras trouxe depoimentos de 40 oficiais em Militares confissões e, antes da década se encerrar, Ronaldo Costa Couto reuniu três depoimentos de militares em Memória viva do regime militar, Brasil: 1964-1985.
Nessa nova fase da guerra da memória, os generais, brigadeiros e comandantes mudaram um pouco o tom de sua defesa e alegavam que a luta teve "excessos de ambas as partes". Conforme explica Martins Filho, a decisão castrense parece ter sido de explicar que a tortura seria justificada pela subversão. O ex-presidente Ernesto Geisel, por exemplo, sugeriu que a tortura seria um recurso legítimo em certos casos.
O que chama a atenção dessa nova etapa é que, pela primeira vez, alguns chefes militares avançaram na discussão: "Houve tortura na repressão da década de 70", disse o ministro do Exército do governo Sarney – o general Leônidas Pires Gonçalves – para o jornalista Hélio Contreiras. No mesmo livro, o almirante Júlio de Sá Bierrenbach admitiu que ocorreram "verdadeiros absurdos da repressão, com vários casos de tortura, espancamento e assassinatos de cidadãos processados pela Lei de Segurança Nacional".
O contexto dessas falas não deve ser menosprezado. A década de 1990 era palco de fim da guerra fria, expansão da globalização e encanto com o que parecia ser a consolidação do regime civil. Os oficiais, já avançados na carreira, pareciam não ver problemas em admitir a violência, como explica Martins Filho. O que permaneceu, contudo, foi a recusa em aceitar a tortura como parte integrante da política do Estado.
Apesar do avanço, essa recusa traz consigo uma gravidade. Isso porque em experiências violentas, o sofrimento está associado ao não reconhecimento, conforme explica a antropóloga Cynthia Sarti. A ausência de reconhecimento social impossibilita a elaboração da dor. Para que as políticas de reparação e de memória se realizem é preciso as pessoas escutem as aflições e os sofrimentos que acometeram os sujeitos.
Me parece que estamos participando – nos anos 2010 – da terceira fase dessa guerra da memória. Desde 2011, a Comissão Nacional da Verdade, instituída pela Lei 12.528/2011, se comprometeu a investigar as violações que ocorreram no Brasil e no exterior entre 1946 e 1988. Uma série de relatórios, laudos e pesquisas de alta profundidade foram realizados por um conjunto diverso de pessoas. Os resultados comprovaram abusos, violências e sistemas perversos de ação do Estado contra membros da sociedade civil. Contudo, em paralelo, há um conjunto de sujeitos insatisfeitos com os resultados e prontos a continuar a disputa pela memória do regime militar. A guerra insiste em não querer terminar e os avanços dos anos 1990 recuaram para trincheiras que já não precisavam existir.
Afinal, o que fazer? É sempre importante ter em mente que não existe passado independente do presente. As histórias que contamos carregam tanto os detalhes revigorados quanto os aspectos que desejamos ocultar – uma minúcia embaraçosa, uma versão que não nos interessa… E, nesse nosso ato de fazer o pretérito, nos tornamos contemporâneos de nosso passado. Se isso é verdade – e eu acredito ser – o que é o nosso presente?
O que significa um presente que nega as violências? Ele faz isso em nome de qual valor? O antropólogo Michel Trouillot defende que somos "todos historiadores amadores", responsáveis por nossas narrativas individuais e, também, pela história de nossa família e de nosso país. Desse modo, as histórias que contamos ou deixamos de contar e aquilo que conhecemos ou deixamos de conhecer produzem a nossa existência. Portanto, que presente estamos constituindo?
Em Memórias do Esquecimento (1999), Flávio Tavares diagnostica que as cicatrizes da ditadura rasgaram não só a pele das pessoas torturadas, mas o próprio tecido social: "a sala de tortura decidiu o triunfo e a derrota numa guerra que, praticamente, não chegou à guerra e que, assim, despojada de beligerância e inchada de violência e horror, selou nossa destruição, mas desfez, também, todos os valores e princípios de convivência".
Enquanto não reconhecermos as memórias, as dores, as violências, as expectativas e os temores que acometeram o Brasil durante o período do regime militar, continuaremos silenciando o passado e tornando-o nosso presente. Um agora incapaz da convivência, do diálogo e do próprio reconhecimento do outro.
*Esse texto foi ligeiramente modificado em 10/08/2019 às 11h55. Agradeço às indicações do historiador Caio Mattos a respeito do teor das atividades do CPDOC da FGV.





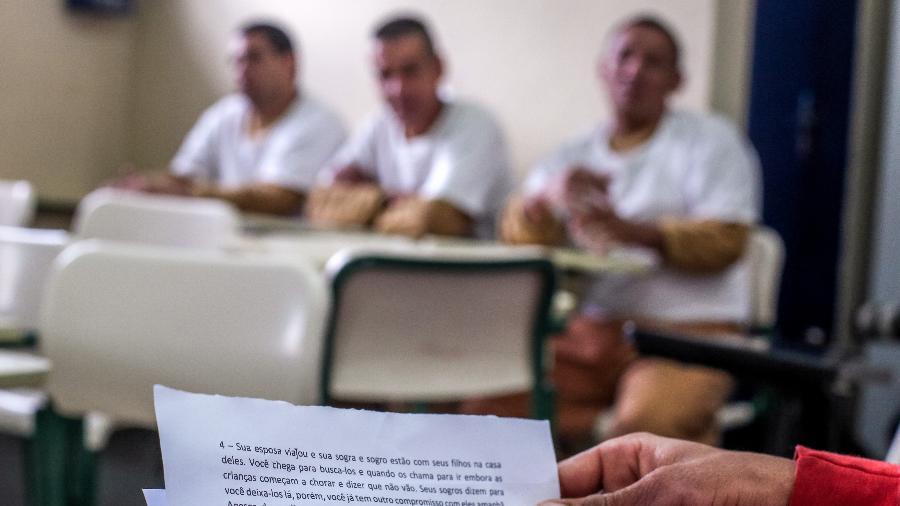









ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.