“Homens não sabem lidar com a dor”

"Os homens não sabem lidar com a dor" disse-me um médico recentemente. Para ilustrar, ele recorreu a uma anedota de quando cortou o dedo e quase desmaiou. A experiência pessoal confirmaria sua certeza de que as mulheres eram feitas "para aguentar mais a dor". Vindas de um especialista, as afirmações soavam como verdade científica.
Essa sequência de argumentos me instigou. Como não sou pesquisador da área da saúde, desconheço investigações que provam ou negam as definições professadas por esse médico brasileiro. Mas, ainda que fosse informado desses resultados por algum meio de comunicação, não tenho competência para avaliar se os procedimentos de estudo são adequados ou não. Portanto, não entrarei na seara dos neurônios, hormônios, genes e afins.
O que me intrigou nessas falas diz respeito a como os corpos – sua saúde e dor – são atravessados por referenciais de gênero e sofrem seus efeitos. As diferenças entre os corpos existem – não vou negar. Mas me interessa pensar como produzimos essas diferenças e o que fazemos com elas. Por exemplo, esse tipo de afirmação, quando vinda de um profissional, pode ter um efeito negligente e cruel – diante da dor de uma paciente mulher, alguém pode considerar que ela não precise de um alívio analgésico, afinal, seu corpo naturalmente aguentaria a agonia.
Em primeiro lugar, as formas de sentir e expressar a dor são regidas por códigos culturais, conforme provoca a antropóloga Cynthia Sarti. Embora singular para quem sente, a dor se insere num universo de referências simbólicas. Por exemplo, no que toca à idade, espera-se que crianças, adultos e idosos reajam de forma diferente à dor. Há uma desaprovação a pessoas adultas que gritam ou não conseguem se conter diante de um procedimento razoavelmente simples. Dividimos a "dor privada" da "dor pública", isto é, definimos quem pode nos visitar em momentos de enfermidade e quem não pode.

Quem sente a dor?
Partindo do argumento do médico com quem conversei, homens e mulheres teriam diferentes comportamentos autorizados para dor, da mesma forma que também existe um discurso que define que homens viris não choram e devem superar os flagelos físicos e psíquicos. Haveria, portanto, dois modos generalizantes de lidar com as aflições: ou os homens são viris e não demonstram a dor, ou reconhecem que as mulheres são mais resistentes a ela (sobretudo a dor do parto). Curiosamente, na própria história da medicina, encontramos uma diferença na atenção para os corpos masculinos e para os corpos femininos, como explica a pesquisadora Fabíola Rohden.
Ao longo do século 19, emerge o processo de especialização dos saberes biomédicos: a andrologia e a ginecologia. A primeira era dedicada aos problemas do corpo dos homens e, como princípio, tratava das doenças que os acometiam. Grosso modo, pairava a percepção de que os homens ficavam enfermos por decorrência do excesso sexual. Já a ginecologia era a ciência das mulheres e estudava a normalidade feminina, considerada na época como "potencialmente patológica". Desde a puberdade até a menopausa, a vida da mulher era percebida como propícia a perturbações e desordens e, por isso, exigiria um cuidado constante.
Dessa forma, em sua própria história, a medicina se dedicou de modo muito distinto aos corpos. Alguns mais fiscalizados e medicalizados – os corpos das mulheres – e outros que receberiam menos atenção e intervenção – os corpos dos homens. Às mulheres era atribuída a responsabilidade da reprodução de uma "raça" forte e sadia. A elas também recaiu o peso sobre o controle da população e da família – como no caso das pílulas. A andrologia, comparativamente, nunca chegou a ter o mesmo estatuto. Uma ciência da saúde dedicada ao homem (como sujeito generificado) encontrou grande dificuldade para se implantar.
No final do século 20 e início do 21, presenciamos uma mudança considerável, como explicam Jane Russo, Livi Faro e Sergio Carrara em importante artigo sobre o tema. No caso do Brasil, a política nacional de atenção à saúde do homem começou há pouco mais de uma década. A Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) é uma das responsáveis em pautar a questão. Em 2008, ela passou a exercer forte pressão frente a parlamentares, a conselhos de saúde, a sociedades médicas e ao Ministério da Saúde para o lançamento de uma política específica voltada à saúde masculina. O acordo assinado entre as entidades tinha como objetivo promover a assistência ao homem no sistema público de saúde e reduzir as taxas de mortalidade masculina.
Na época, o Ministério da Saúde publicou um documento denominado "Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (princípios e diretrizes)". O texto apresentava dados com estudos comparativos que demonstravam 1) serem os homens mais vulneráveis a doenças do que as mulheres, especialmente enfermidades crônicas e graves; 2) morrerem mais cedo e 3) entrarem no sistema de saúde pela atenção ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade – o que configurava um perfil que favorecia o agravo da morbidade pela busca tardia ao atendimento.
Por exemplo, das 10 neoplasias malignas (o popularmente conhecido câncer) que mais causaram morte no Brasil em 2005, o câncer de próstata aparecia em 2º lugar logo depois do câncer de pulmão, traqueia e brônquios, ainda que, de acordo como o relatório, o câncer de próstata tenha evolução lenta que poderia ser evitada se diagnosticada com precocidade.

O diagnóstico do relatório alertava para os obstáculos à promoção da saúde dos homens. A centralidade da ideia da invulnerabilidade – a potência como elemento fundamental para a construção da masculinidade hegemônica – produzia efeitos determinantes no modo como eles se relacionariam com a saúde. Dessa forma, os homens seriam, em média, mais "relapsos" com a saúde, e procuravam tratamento médico com menor frequência quando comparado às mulheres.
O documento concluía o caráter "insalubre" desse tipo de masculinidade. Como doença é considerada um sinal de fragilidade, homens não a reconheciam como um elemento inerente à sua própria condição biológica. Mostrar-se invulnerável faria parte do exercício de um poder e para exercê-lo seria preciso pagar um "preço": uma vida mais curta ou menos saudável. Ao que parece, alguns homens ainda estariam (ou estão) dispostos a pagar essa alta taxa.
Mas e a dor? Ela seria um desses elementos que poderia colocar em xeque a própria masculinidade. Não sei se concordo com as certezas do médico que iniciou essa coluna. Os homens lidam, ao seu modo, com as aflições. Alguns negam a existência da dor, outros dizem que, apesar dela, não precisam de tratamento médico. Haverá ainda quem, sentindo dor, reage com gritos e xingamentos que comprovariam a própria masculinidade pelo volume e teor virulento das manifestações.
De qualquer forma, é notável que ela, a dor, cause um incômodo que transcende a dimensão física. Afinal, ela pode comprometer os imaginários de masculinidade socialmente disponíveis. Dessa forma, valeria repensar esses repertórios de existência e constituir um novo terreno no qual os homens possam experimentar seus corpos e sua saúde em outros termos. Sou daqueles que – como Raewyn Connell, Miguel Vale de Almeida, Tulio Custódio e Isabela Venturoza – considera mais saudável investigar novas formas para as existências das masculinidades.





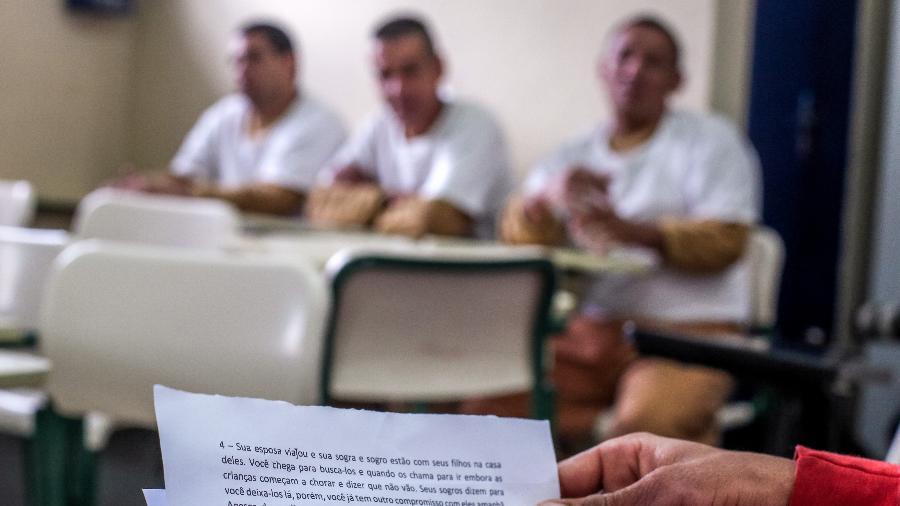









ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.